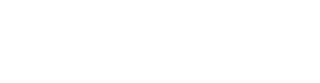São Paulo – O diretor palestino Elia Suleiman atua como uma versão de si mesmo em todos os seus filmes. No Brasil pela segunda vez – ele esteve no Rio de Janeiro em 2003 -, o artista foi homenageado com o Prêmio Humanidade na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Além de diretor e ator, ele também é roteirista e produtor de seus filmes. Suleiman falou à ANBA sobre seu último filme, “O Paraíso deve ser Aqui”, pré-indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, o começo da carreira, o processo criativo, a causa palestina e a política que permeia seus trabalhos.
“O Paraíso deve ser Aqui” é uma saga cômica na qual Suleiman é um palestino que foge de sua terra natal, mas encontra vestígios de seu país de origem onde quer que vá. Ele deixa a Palestina em busca de uma nova vida, mas, em Paris ou Nova York, a Palestina parece persegui-lo pois algo sempre o lembra de casa.
O filme terá distribuição no Brasil após a mostra, mas ainda não há data prevista para o lançamento. Gael García Bernal, ator mexicano e amigo de Suleiman, também faz parte do elenco do longa. Outros dois filmes de Suleiman foram exibidos no festival em São Paulo: “Intervenção Divina” e “Crônica de um Desaparecimento”, este último seu primeiro longa-metragem. Acompanhe a entrevista abaixo.
ANBA – Como você começou a trabalhar com cinema?
Elia Suleiman – Comecei pela porta dos fundos. Não sabia muito. Senti que era possível, mas com muitas dúvidas. Eu não tinha engajamento com o cinema, era como uma lição de casa, eu não entendia o que [os filmes] significavam, quando era criança eu só assistia os filmes medíocres, o cinema semicomercial.
Acho que uma motivação que tive no começo foi de contestar essas representações deturpadas do que significa ser um palestino, então eu tinha muito interesse em construir uma narrativa alternativa. Assistia a filmes que falavam sobre a Palestina de uma forma tão estereotipada, mesmo quando [os cineastas] eram simpatizantes com a causa palestina, e particularmente quando eram muito simpatizantes à causa, eram especialmente racistas.
Então eu me dei conta de que eu não tinha um vocabulário crítico para saber como fazer essa crítica, e comecei a ler livros de cineastas que falavam sobre seus trabalhos, e me identificava com o que eles estavam dizendo. Quando eu gostava da abordagem crítica do diretor, por exemplo, o [Luis] Buñuel, eu anotava em uma lista. E depois eu passei como um ano assistindo a filmes, dois, três por dia, e encontrei cineastas que não conhecia e que tinham um apelo ao meu jeito de ver as coisas, e comecei a ver potencial nas possibilidades que eu tinha.
Isso foi nos anos 1980?
Sim, nos anos 1980, em Nova York. Minha carreira começou nos anos 1990. Eu vivi até a adolescência em Nazaré, saí de lá em 1981, 1982. Minha educação autodidata foi em Nova York, não tive educação formal em cinema. Hoje vivo em Paris, mas nunca rompi com a Palestina, volto quando posso. Agora vou menos porque meus pais faleceram, mas ainda tenho família estendida e amigos em Nazaré. É uma cidade pequena.
Não tenho mais a mesma relação nem a mesma conexão desde que meus pais morreram, nem tenho a sensação de que eu tenho que ir, mas continuo visitando. Para esse último filme gravamos em Nazaré, então passei bastante tempo lá.
Em seu último filme, “O Paraíso deve ser Aqui”, (97 min, 2019), você atua como você mesmo?
Eu sempre faço papel de mim mesmo, em todos os meus filmes. É algo que aconteceu, foi uma intuição, desde o primeiro curta em Nova York. Talvez por causa dos momentos semibiográficos que eu tento capturar na tela, eu decidi, e acabei atuando eu mesmo, foi parte do processo de como você sente, como quando você compõe imagens, é mais intuitivo.
E neste filme você trata da questão palestina em Nazaré, Paris e Nova York, como uma questão global, correto?
O cinema nos aproxima, é universal, não é uma linguagem local. Acho que meus primeiros filmes foram universais, mas do ponto de vista de terem sido filmados na Palestina. Foram mais tratando a Palestina como um cosmos de um nível universal.
E este último é o contrário, é o global refletindo o local, porque acho que o que está acontecendo agora é que temos uma situação similar onde quer que estejamos. Não é só um lugar que está ocupado, há similaridades de violência e tensão em todo lugar, inclusive no seu país. A globalização criou essa violência que serve a poucos. É muito similar em todo lugar que vamos.
Essas ditaduras não anunciadas que estamos testemunhando em todo o mundo, se você olha para o mundo hoje, lê o jornal e vê todos esses protestos, acho que o mundo está em um estado de desespero. Veja o que está acontecendo no Chile, Líbano, Argélia, Iraque, Hong Kong, as pessoas estão nas ruas por uma razão. Acho que é disso que o filme tenta falar, sem querer bater de frente, mas usando o humor, o burlesco.
Mas eu também quis falar sobre o indivíduo, e não sobre o coletivo. Sobre nossa própria fragilidade pessoal e alienação diante do que está acontecendo a nossa volta. Todo mundo pode falar sobre protestos e manifestações, mas nós estamos com dificuldade de falar de nossos medos mais íntimos ao acordar de manhã, e vemos que o mundo está seguindo por um caminho desconhecido e perigoso. Estamos vivendo esse medo e essa solidão, mas não estamos sabendo conversar sobre isso de uma forma íntima.

E como foi a reação do público aqui em São Paulo?
O filme teve boas reações, fizemos um debate e uma sessão de perguntas e respostas, as pessoas vieram me falar o quanto gostaram do filme. Acho que o público daqui se identificou completamente com o filme. E é gratificante sentir que seu filme – por sua linguagem e mensagem – viaja por diferentes culturas e os espectadores se identificam com o que ele está tentando dizer.
Você se considera mais diretor ou mais ator?
Sou um diretor muito mais do que um ator, a atuação vem no pacote do filme. Se eu fosse ator, eu atuaria em outros filmes que não os meus.
Há muitos elementos autobiográficos em seus filmes?
Todos os meus filmes têm elementos autobiográficos. Acho que 99% do que acaba na tela é algo que tem algum pano de fundo de uma passagem da minha vida. Mas dito isso, isso não deve ser considerado como uma réplica do que eu vivi, não é assim, é mais como – você tem que estar alerta, e você vê coisas acontecendo, e se houver um desejo de transformar isso em uma imagem cinematográfica, então vira uma imagem, mas não estou copiando minha vida, estou basicamente absorvendo as realidades ao meu redor que acabam indo para a tela. Posso dizer que muito do que você vê nos meus filmes vem de momentos reais da minha vida, e o trabalho é torná-los esteticamente interessantes para o cinema.
Como é seu processo criativo? Você começa escrevendo?
Sim, começo escrevendo, fazendo pequenas anotações no dia a dia. Basicamente é um acúmulo de anotações infinitas que eu faço de coisas que observo, ideias, sonhos, imagens observadas. E leva anos para tomar forma e se dar conta de que tem algo a dizer. E aí começo a construir essas anotações e conectá-las.
Vem um feeling do que esse filme pode se tornar ou para onde ele vai, mas não dá para saber no início e é preciso deixar rolar, não dá para controlar, porque se a gente quiser controlar, não vai conquistar o resultado desejado.
Se seguir o processo, uma espécie de processo meditativo, há um lugar bem, bem fundo dentro de você que te leva a um cosmos onde você se torna muitos, e quando se tem isso, é preciso ter fé de que o que você está falando é algo que vai ter uma comunicação, uma identificação com o espectador, ou o leitor.
Se você não der esse salto, que tem riscos, você vai se fechar em si mesmo, e para se abrir, é preciso assumir o risco. Acho importante que se tenha essa viagem interna, é um estado meditativo que te aproxima do espectador.
O problema de conter tudo com um senso de autoridade é que isso é sentido depois pelo espectador. Porque o espectador sente que você está impondo o seu ponto de vista, a obra fica mais linear, e não é tão prazerosa para ele só receber de você, esse tipo de imposição, em vez de dar ao espectador a possibilidade de compartilhar o que você está tentando retratar.
Você vê semelhanças entre o cinema árabe e o latino-americano?
Tenho que ser honesto, não conheço muito do cinema árabe. Não fui um grande fã de cinema árabe, posso dizer que recentemente comecei a me interessar mais com a nova geração, que é muito mais cinemática, mais conectada com a linguagem universal do filme.
Não fui influenciado pelo cinema árabe, mas acho que os gêneros de cinema foram trocados nas últimas décadas, pode-se dizer que o neorrealismo foi um gênero adotado pelo cinema brasileiro, pelo cinema egípcio, mas veio da Itália.
O que é similar são os tópicos. Na América Latina, o cinema tem uma proximidade pelo que ele tenta retratar, especialmente porque esses dois mundos (árabe e latino-americano) foram de alguma forma colonizados, então a experiência de termos sido colonizados gera uma identificação.
Qualquer filme que retrate algum tipo de injustiça, você também se identifica por causa das injustiças que estão acontecendo em outros lugares. Quando eu vejo um filme latino-americano eu me identifico completamente, mas com a condição de que eu também me identifique com a linguagem cinematográfica.

E o cinema palestino?
Acho muito difícil comparar o cinema palestino pois o cinema latino-americano tem todo um dicionário cinematográfico e as tentativas do cinema palestino são muito recentes.
Mas eu diria novamente que o cinema global se relaciona quando lida com alguns temas. Estou vendo agora que são os jovens que estão liderando a expedição cinematográfica na Palestina e no mundo. Em todo lugar que eu vou, vejo a efervescência dos jovens que estão tentando contar histórias de uma forma diferente, com uma narrativa alternativa, o que é muito animador, embora o cinema no geral não esteja num momento tão bom.
Seus pais também eram artistas?
Não. Minha mãe era professora, e meu pai, uma espécie de mecânico. Mas acho que fui influenciado pela minha família, por exemplo, pelo humor em meus filmes. Sempre tivemos muito humor em casa. E meus irmãos eram intelectuais, me trouxeram influências musicais. Não é tudo preto no branco.
Para você, qual a principal questão a ser resolvida na Palestina hoje?
Uma palavra: justiça. Que eles não terão. E acho que no mundo de hoje, está ainda mais difícil de conseguir. Sabe, um tempo atrás, os malfeitores, em Israel ou em qualquer outro lugar, os fascistas, tinham que esconder suas práticas fascistas. Não mais. Agora, eles podem sair e falar livremente em qualquer lugar. Veja o seu país, é o pior! Veja Trump, veja a Europa Oriental, veja todos esses lugares, Oriente Médio, Turquia, é franco e direto, eles não se intimidam mais. Acho que o Oriente e os regimes totalitários pelo mundo não têm mais nenhum motivo pra se intimidar de todo os feitos criminosos e vis.
E com os seus filmes, você busca essa justiça?
Eu estou levantando questionamentos. Não estou pregando justiça. Acho que quando se tem o prazer de assistir uma imagem, o que você associa a ela pode te fazer questionar algumas coisas ao seu redor. O cinema não resolve problemas, não propõe soluções, não tem qualquer influência. Talvez a culminação da arte possa um dia começar fazer um contraponto ao dano causado, mas o cinema não pode fazer isso.
Veja o trailer do filme.