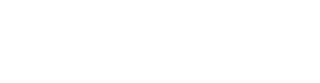São Paulo – Um engenheiro argelino conhece uma bioquímica cearense em Washington, nos Estados Unidos, nos anos 1960, e os dois se casam. Desta união nasceu Karim Aïnouz, o diretor de cinema que se tornou o primeiro brasileiro a ganhar o prêmio da mostra “Um Certo Olhar” do Festival de Cannes. A vitória ocorreu este ano com o filme “A Vida Invisível de Eurídice Gusmão”, que deve estrear no Brasil em novembro.
O cineasta conhecido por trabalhos como “Madame Satã” e “O Céu de Suely” concedeu entrevista por telefone à ANBA de Berlim, na Alemanha, onde vive há dez anos, para falar sobre sua origem árabe, a história de amor entre seus pais, as similaridades entre a cultura cearense e a árabe, sua trajetória cinematográfica, sua primeira visita à terra de seu pai e seu próximo projeto, um documentário chamado “Argelino por Acaso” (Algerian by Accident), fruto de viagem à Argélia, que está previsto para ser lançado em 2020. Acompanhe a entrevista:
ANBA – Karim, de que parte da família é sua origem argelina?
Karim Aïnouz – Minha mãe era cearense e meu pai é da Argélia, hoje ele mora em Paris. Eu fui criado pela minha mãe em Fortaleza e fui viver com meu pai em Paris com 18 anos. Minha relação com a Argélia é muito via França, por causa do meu pai. Mas curiosamente, este ano, antes de terminar o “Vida Invisível” [de Eurídice Gusmão], eu passei dois meses na Argélia pela primeira vez na minha vida, eu nunca tinha ido, e acabei de fazer um filme lá, então estou editando o que filmei na Argélia, o “Argelino por Acaso”, que é um projeto que é um pouco um embrião de um outro projeto que eu pretendo fazer nos próximos anos, contando a história de amor de meu pai e minha mãe.
Como seus pais se conheceram?
Meus pais se encontraram nos Estados Unidos na década de 1960, meu pai estava fugindo, ele foi ameaçado de morte por estar lutando pela independência da Argélia – meu avô também fazia parte do movimento – e ele teve que fugir da Argélia; na época, os Estados Unidos flertavam muito com a Argélia porque era muito evidente que o país iria se tornar independente, então tinha um flerte comercial e político.
Meu pai é engenheiro hidráulico, ele trabalhou na construção da malha de estradas da Argélia nas décadas de 1960 e 1970, e depois que ele foi para a França, ele continuou trabalhando no setor de construção na Argélia. Ele vive entre Paris e Argel.
Minha mãe trabalhava com biologia molecular e bioquímica, ela era pesquisadora e professora na Universidade de Fortaleza e trabalhou muito tempo com um convênio que a universidade tinha com o Instituto Pasteur, em Paris, e com uma instituição na Escócia, fazendo pesquisa.
Eles se conheceram em Washington, naquela época eles faziam um curso de proficiência em inglês. Ele foi morar no Colorado e minha mãe em Wisconsin, e só depois de um tempo ela se mudou para o Colorado, quando se casou com meu pai, e eu sou “made in Colorado” [risos], mas eu nasci no Ceará. Minha mãe queria que eu nascesse lá. Tenho nacionalidade brasileira, francesa e argelina.
Eles viveram por cinco anos nos Estados Unidos, depois minha mãe voltou para o Brasil e eles se separaram, eu fiquei com minha mãe e meu pai voltou pra Argélia, e depois foi viver na França, no final da década de 1970.
Então o “Argelino por Acaso” é um pouco um ensaio para essa ficção que contaria a história deles. São culturas totalmente diferentes que se encontraram em um momento histórico muito importante, que é o momento da independência das colônias da África. Foi um encontro muito bonito de pessoas de dois lugares que eram países de terceiro mundo que estavam em processo de emancipação.
Esse será o seu próximo projeto, um filme sobre a história de amor de seus pais?
Eu preciso primeiro terminar o “Argelino por Acaso”. E eu tenho que entender com quem eu vou escrever, mas é um daqueles filmes. Eu acho que tem uns cinco filmes que eu preciso fazer antes de morrer, e este é um deles. Não sei se ele vai ser exatamente o próximo ou se daqui a uns dois filmes, mas é um que eu preciso fazer. Porque é uma história muito bonita, muito livre, que fala de um momento histórico onde tudo era possível, um argelino encontrar uma cearense, entende? É um filme sobre um momento onde existiam muitas possibilidades.
E hoje essas possibilidades não existem mais?
Hoje até tem essa possibilidade, mas na época era muito surpreendente, era quase como um marciano casado com alguém de Júpiter [risos], é muito longe, então a questão da diferença era muito mais celebrada, era muito mais um fator de aproximação do que um fator de criação de medo.
Foi um hiato na história da humanidade, essas décadas [de 1960 e 1970], porque tudo era possível, e penso: que bom, que legal que isso era possível. E até na história do meu pai, se você for pensar de maneira mais concreta, ele se separa e se casa com uma argelina depois, então você vê que ali teve uma explosão de possibilidades que eu acho muito bonita.
E eu acho que hoje há mais a possibilidade do encontro com o diferente, mas também há mais preconceito, na mesma proporção. E acho também que o que aconteceu com eles foi muito inédito, por isso é tão bonito de falar e contar essa história.
Como foi sua viagem para a Argélia?

Eu fui pra Argélia este ano, entre fevereiro e abril, e como eu nunca tinha ido, eu decidi fazer uma viagem a Argel e ao Nordeste da Argélia, à cidade do meu pai. Este (o “Argelino por Acaso”) vai ser um documentário dessa viagem, que começa em Marselha (França), fui de barco para Argel, e de lá fui para onde a família de meu pai nasceu, nessa cidadezinha nas montanhas da Argélia.
Vamos começar a montar o filme daqui a duas semanas. Esta viagem me permitiu entender um pouco mais a relação do meu pai com o país dele. Sempre foi um país que me pareceu muito distante – porque entre o Ceará e a Argélia parece que é perto, mas é muito longe -, então foi uma descoberta desse país que também é meu país, de uma certa maneira. O filme vai ter um pouco do formato de um outro filme meu, o “Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo”; é um diário de viagem e também um diário de descoberta, não só do país, mas do meu próprio pai, foi superlegal.
Seu pai te acompanhou?
Meu pai foi comigo, ele tem um apartamento lá [em Argel] e quando ele soube que eu ia fazer o filme a gente combinou e ele ficou lá comigo três semanas, foi superbacana. Meu pai se separou da minha mãe e se casou com uma argelina, eu tenho uma meia-irmã que mora na França, fomos nós três, foi superlegal.
Eu não falo árabe, falo em francês com meu pai, então nem tenho tanto acesso à cultura árabe através do idioma, mas nessa ida à Argélia com meu pai, agora, foi muito impressionante entender como a gente é próximo, e aí eu comecei a entender como minha mãe encontrou meu pai também, porque não é tão diferente assim, né.
Quais foram suas impressões sobre o país?

Foi muito engraçado estar lá. Meu nome é um dos nomes mais comuns da Argélia, como se eu me chamasse Francisco, no Brasil. Foi muito surpreendente, e a família do meu pai não é uma família grande, mas foi muito bacana se relacionar com os parentes, primos, tios, conhecer [gente] com meu sobrenome, você vai realmente descobrindo que tem outro mundo. No Ceará não tem ninguém com meu nome de família, então foi uma aventura incrível, e foi muito bacana entender o que é a história daquela parte do mundo, o que foi a independência, o que é essa coisa da emancipação desses países, que eram países que de fato eram subordinados a um poder colonial muito forte – no caso da Inglaterra, o Egito; no caso da França, o Líbano, Tunísia, Marrocos, Argélia, enfim.
É um momento muito bonito na Argélia, eu tive muita sorte de chegar lá num momento de uma outra emancipação, de um governo que estava no poder há mais de vinte anos, e em Argel tem esse movimento de ocupação das ruas. No país todo, na verdade, toda sexta-feira está havendo manifestações nas ruas para uma retomada da democracia, foi muito bonito estar lá nesse momento.
Nos últimos anos eu também tenho ido muito ao Líbano, tenho trabalhado lá como consultor de roteiro e tem sido muito bacana descobrir essa parte do mundo e ver que, evidentemente, o Líbano e a Argélia são muito diferentes.
Eu vi que está para lançar o seu documentário sobre os refugiados sírios na Alemanha.

Eu fiz o filme “Aeroporto Central THF”, um documentário sobre os refugiados sírios aqui na Alemanha. Ainda não estreou no Brasil – deve estrear entre agosto e setembro.
Acho que temos de estar muito atentos, porque, para mim, existe um trabalho permanente de vilanização, principalmente do jovem homem árabe, que foi uma coisa que eu vivi muito quando morei na França, adolescente, e por causa do meu nome… Foi uma coisa que me incomodou muito e eu acho que nos últimos anos, com o advento do Daesh [Estado Islâmico], com a invasão da Síria, acho que as pessoas ficam virando o jogo e vilanizando as vítimas, porque na verdade essas são vítimas de uma guerra que não foi causada só por questões internas, mas por questões de economia externa.
Esse filme, para mim, foi importante para falar disso, porque a cada dia que passa que a gente não fala disso, vai ficando cada vez pior, né. Eu acho que isso tem um efeito gigante nas novas gerações.
Além deste documentário, você acredita que sua origem árabe influencia no seu trabalho?
A origem árabe tem influência, sim, no meu trabalho. No Brasil, sempre me perguntaram se eu era sírio-libanês. Parece que no Brasil ser árabe é ser sírio-libanês – claro que isso mudou muito nos últimos anos. No Ceará tem uma presença grande da comunidade sírio-libanesa, assim como no Amazonas e no País inteiro, então essa sempre foi uma pergunta frequente para mim, e eu dizia não, meu pai é argelino.
Mas existia sempre uma sensação de solidariedade, de “não viemos do mesmo lugar do mundo, mas viemos”, entende? Então isso sempre foi uma coisa muito presente na minha identidade e na minha formação, essa sensação de que eu era filho de árabe. Acho que no Brasil a gente tende a naturalizar as origens de imigração, porque somos todos imigrantes, a não ser os nativos, os índios.
E também por eu ser primeira geração, isso deixava sempre muito claro que eu era brasileiro vindo de um outro lugar, entende, meu próprio nome é muito esquisito, para o Nordeste e para o Brasil. São muito poucos Karims que existem no país, e Aïnouz então, acho que só tem eu, então essa coisa de ser imigrante dentro do meu próprio país tem um impacto tanto nas histórias que eu conto. Se você for ver, todas as histórias têm um pouco essa condição, não do imigrante, mas de quem está de fora. E sempre tento trazer algum elemento do mundo árabe para os meus filmes. Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, para mim lembra muito o Oriente Médio, o Líbano, a Jordânia, a Síria.
O Brasil e o mundo árabe têm culturas muito próximas, essa coisa do acolhimento, que também é muito dos muçulmanos, têm uma afinidade muito grande. Quando eu vou a Beirute, tenho a sensação de estar em casa, há uma familiaridade, algo muito próximo inclusive do Nordeste.
É um lugar muito sonhado, o mundo árabe, a Argélia, o país independente, era um lugar muito imaginado, mais do que vivido, à medida que eu fui crescendo. Quando era criança, eu recebia umas caixas de tâmaras do meu avô, tinha uma relação meio sonhada.

A minha relação com o mundo árabe, de fato, começou como imigrante na França, por conta da relação do meu pai com a França, e da França com a Argélia. Foi muito duro, não foi fácil, com 17 anos você chegar na França com o nome Karim. É uma loucura, porque me perguntavam de onde eu era, e eu dizia que era do Brasil. E eles me diziam: não, você é árabe, e eu dizia, eu também sou, mas me diziam que eu era árabe, e que eu não era brasileiro. Então, eu subitamente virei árabe, aos 18 anos de idade, sem entender direito o que era aquilo.
Não foi fácil essa primeira relação que eu tive, porque eu era imediatamente colocado de lado, eu não conseguia alugar apartamento, por exemplo. Claro que isso mudou, não mudou tanto, mas acho que mudou relativamente do tempo que eu estava lá, há 35, 40 anos atrás. Eu “virar árabe” foi muito complicado, não porque eu tivesse nenhuma vergonha disso, mas eu fui interpelado por um lugar que eu não sabia qual era, entende? Hoje em dia eu falo que foi muito divertido, mas acho que isso teve um impacto muito grande não só na minha vida, mas no meu trabalho.
Quando eu morava em Fortaleza, nunca ninguém entendia meu nome, meu nome era sempre Ricardinho, Paulinho, Carlinhos, nunca Karim [risos]. E aí era uma loucura, era impossível, até hoje sou chamado de “senhora Karen”, e aí quando eu cheguei [na França] e descobri que existiam outros Karims, que existia uma cultura que eu desconhecia, que era a cultura do meu pai, a cultura árabe, foi muito incrível, essa descoberta de que somos muitos no mundo e que é uma cultura sublime.
Outra coisa que acho legal dizer é que a família do meu pai é árabe e berbere, são os autóctones do Norte da África (muito presentes no Marrocos, Argélia e Tunísia), na verdade o meu pai vem da montanha, e o meu nome é um nome muçulmano, Karim significa “o generoso”, e é um dos 99 nomes de Alá, e meu sobrenome, Aïnouz, é berbere.
Sua família é religiosa?
Minha família não é exatamente muçulmana, a gente é muçulmano de tradição, mas não praticante. Então eu também tive uma relação com a cultura árabe moderna, quando você vê o que era a cultura árabe entre as décadas de 1960 e 1980, é muito moderna. Eu tive sorte de adentrar essa cultura por uma porta que não foi a porta da tradição, da religião, mas era uma cultura árabe secular, superbacana, muito visionária.
Tive a sensação de que é uma questão geracional mesmo, muito diferente do que é hoje, porque acho que hoje você tem sempre essa confluência do árabe com o muçulmano, e na verdade não é. A gente é um monte de coisas, se você vai para um país como o Líbano, você tem o árabe católico, cristão, muçulmano. No começo, foi um choque, mas depois, foi muito bonito eu poder abraçar essa cultura, acho que sou muito privilegiado de poder ter essas duas culturas que são tão distintas e tão próximas.
Eu sou agnóstico e minha mãe era ateia, meu pai também, ele era de uma geração do comunismo, da liberdade, da independência. Era um momento muito bonito, vejo fotos das amigas do meu pai na Argélia na década de 1960 e era todo mundo de minissaia, tinha ali uma coisa muito livre que acho que depois foi se recalcitrando, com a religião, com as questões da guerra e da invasão do Iraque, acho que tudo isso foi mudando um pouco a forma como a gente se identifica como árabe.
E é uma cultura absolutamente hedonista, também, tanto quanto a cultura brasileira. Eu acho que não combina muito com esse caminho que foi tomando do conservadorismo. Que nem é a maioria, acho que quando você está nos países árabes a questão do prazer é muito importante para eles.
Acho também que tem uma coisa muito parecida entre a cultura árabe e a cultura cearense, acho que tem uma coisa dos mouros, da Península Ibérica, dos portugueses. O Ceará tem uma coisa do Sertão, que é muito isolado, tem uma coisa do isolamento do Nordeste, né, que eu acho que foi aí que eu encontrei um lugar em comum, e aí que eu consegui entender um pouco a relação dos meus pais, e tem uma coisa com hospitalidade no Ceará que é muito impressionante, tem uma coisa com a ingenuidade, não no sentido bobo, mas de generosidade, que eu acho que vem da cultura árabe.
Você vive em Berlim há quanto tempo?
Faz dez anos que moro em Berlim. Eu saí do Brasil muito cedo, morei na França com meu pai, aí depois fui embora da França muito por conta disso [do preconceito contra os árabes], fiquei com muita raiva da maneira como eu estava sendo tratado ali, fui pego de surpresa. E aí aos dezenove ou vinte eu fui morar nos Estados Unidos porque lá, ninguém sabia de onde eu vinha, era um lugar mais zerado para mim enquanto minha origem, sabiam que eu era do Brasil e tinha um nome árabe, mas ninguém ficava me perguntando o tempo inteiro sobre isso.
Aí morei lá durante 15 anos, e quando me dei conta fazia mais de vinte anos que eu já estava fora do Brasil, mas eu não queria mais ficar nos Estados Unidos. Trabalhei lá por muitos anos, e vim morar na Alemanha muito por acaso. Eu ganhei uma bolsa para ficar aqui por um ano como artista residente, como se fosse um “CNPq” alemão. Gostei muito daqui, e fiquei, e terminei vindo morar num bairro absolutamente árabe. E do lado da minha casa, tem uma rua que tem o apelido de Faixa de Gaza, porque na verdade, todos os negócios da rua são ou de libaneses ou de palestinos, e agora também de sírios. Então foi uma atração quando eu vim morar aqui, porque é um bairro onde eu me sinto de alguma maneira perto de casa. É uma cultura muito mais ligada ao Líbano e à Palestina, que foram pessoas que vieram para cá nos anos 1970, mais ou menos.
Você é formado em Arquitetura. Como foi sua trajetória até o cinema?
Eu fiz arquitetura, depois eu queria fazer pintura, mas não tinha muito talento, aí fui para a fotografia, a fotografia me levou para o vídeo, e comecei a trabalhar como assistente de montagem, elenco, trabalhava na equipe de filmes independentes. Aí o cinema foi surgindo com alguns curtas, o primeiro curta-metragem que eu fiz foi sobre minha avó.
Depois eu comecei a fazer longa-metragem, não porque eu quisesse fazer longa, mas porque eu queria muito viver de cinema e me dei conta que era algo necessário no sentido prático, mesmo, para pagar as contas. Foi tudo muito orgânico, e nessa época eu fiz meu primeiro longa que foi o Madame Satã (2002).
Mas não foi exatamente um sonho – assim, quero uma carreira no cinema! -, foi acontecendo. E eu gosto muito do ofício, entende, eu acho importante, é um ofício que me interessa muito e é uma força, o impacto que a ficção tem no real é muito grande.
Sou um cara que acha que o mundo é um lugar incrível, mas cheio de problemas, então acho que é preciso falar desses problemas em voz alta, provocar discussões, porque o impacto do cinema é gigante. Nunca foi um plano ser cineasta, para mim era importante estar no mundo e fazer algo que eu gostasse e que eu conseguisse sobreviver, e que eu tivesse prazer fazendo. Foi algo que eu aprendi com a minha mãe, que me dizia que eu podia fazer o que eu quisesse, desde que fizesse bem.
Já faz 25 anos que faço cinema, quero continuar fazendo, mas não só isso, gosto de outras coisas, eu adoro fotografar, tem 30 anos que eu fotografo, tenho um acervo. Mas eu não vi um filme quando eu tinha oito anos e disse para minha mãe que queria ser cineasta. Não foi assim.
E como foi o processo do filme “A Vida Invisível de Eurídice Gusmão”?

Eu não acho que eu faço filmes porque eu tenho que fazer aqueles determinados filmes, acho que eles se impõem a mim mais do que eu me imponho a eles. O próprio “Vida Invisível” [de Eurídice Gusmão] realmente começou como um presente que eu queria dar para minha mãe. Ela faleceu em 2015, e este foi o ano que eu li o manuscrito do livro [homônimo de Martha Batalha]. As pessoas sabiam muito pouco sobre o quão duro tinha sido a vida de uma mulher naquele momento, e o filme veio muito com uma vontade de falar disso.
Foi um projeto muito pessoal, o livro tinha muito a ver com a história de minha mãe e de minha tia, tinha a ver com meu primeiro curta-metragem, e os anos foram passando, e com a fase de desenvolvimento foram surgindo outras questões. Com o avanço do patriarcado sobre o tempo em que a gente vive, um momento conservador – que é um pouco o desespero do patriarcado que está acabando, e as pessoas estão ficando loucas – o filme foi se tornando muito necessário.
Acho que tem pessoas que sabem muito o que querem desde o começo. Eu não, acho que eu fui tentando coisas e de um lado comecei mais tarde, mas acho que você começa com um repertório maior de vida. Personagem é isso, né. Para você escrever um bom personagem, você tem que ter vivido com bons personagens, convivido. Você não tira isso de uma folha em branco.
Em sua carreira você reveza entre filmes de ficção e documentários.
Faço ficção e documentário, para mim é tudo a mesma coisa, é cinema. Se é documentário, ficção, experimental, eu acho que tem que chegar no outro que está vendo. Não tem muita diferença. É o filme que pede o formato que ele tem que ter.
E na maioria dos seus projetos, notei que você escreve com outras pessoas.
É, eu detesto escrever, acho chato, não gosto, não acho a menor graça, mas eu gosto muito de estruturar, então eu sou mais um arquiteto de histórias, faço o roteiro geralmente com dois roteiristas, eu colaboro no sentido de ter um olhar de dentro dessas histórias, e ao mesmo tempo, tento manter uma certa distância pra enxergar de fora. Essa coisa que hoje em dia chamam de showrunner.
Como foi ser o primeiro cineasta brasileiro a vencer o prêmio “Um Certo Olhar”, no festival de Cannes?

Acho que foi especificamente importante receber este prêmio em um momento em que vivemos uma certa vilanização da cultura no Brasil, com cortes de patrocínios, como o da Petrobras, com dúvidas em relação a leis de incentivo à cultura, como a lei Rouanet, então acho que é muito bonito. Se você der um “Google”, acho que a gente está no mundo inteiro com essa coisa do prêmio. Então o filme vai estar no mundo inteiro, acho que o prêmio de fato catalisa isso.
É maravilhoso que a gente tenha recebido esse prêmio, não só pelo trabalho, pelo reconhecimento, mas como uma prova de que a cultura é muito importante. E foi muito bonito, não só para o Brasil, mas para outros países que têm uma cinematografia que ainda é muito claudicante. A primeira entrevista que eu dei quando eu saí da sala da cerimônia de premiação foi para a TV argelina. Eu já tinha falado com o Canal Brasil, que estava lá dentro, mas foi muito legal falar com a TV argelina, foi muito emocionante. Que sirva de inspiração para outros diretores e diretoras, porque acho que é um prêmio também para a nossa geração. E que sirva de inspiração para as novas gerações que estão começando.