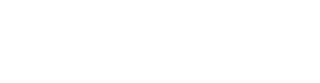Edla Lula, da Agência Brasil
Brasília – Toda vez que o Brasil acena com a possibilidade de firmar um acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), o assunto se espalha como rastilho de pólvora. Especialistas e leigos gastam um belo tempo para avaliar se é bom ou não para o país.
Há quem defenda os acordos, com o argumento de que servem como um “cheque especial” para superar as turbulências e convencer os investidores estrangeiros de que tudo está bem. Os críticos, por outro lado, vêem no FMI o braço pesado das instituições financeiras internacionais, apontadas como responsáveis por muitas das mazelas sociais.
O tema volta ao noticiário esta semana. Os técnicos do Fundo estão em Brasília para realizar a última revisão do acordo de US$ 30 bilhões, firmado no ano passado. Depois, para acertar, possivelmente, as bases de um novo contrato.
A expectativa agora se refere ao perfil e ao valor de um novo acordo, que o ministro da Fazenda, Antônio Palocci, tem caracterizado como “preventivo”. Se vier a se confirmar, será o primeiro contrato do governo Lula com o organismo internacional.
Do outro lado do balcão está o FMI, que adentrou o século 21 questionando e revendo a sua missão em países que passam por dificuldades financeiras. Os acordo com o Fundo podem deixar seqüelas, causadas por conta de algumas exigências fiscais, como a adoção de superávits rígidos, com controle rigoroso de gastos.
Nesses novos tempos de FMI, entretanto, espera-se de um novo acordo iniciativas que contemplem os setores sociais. “Acho que o FMI tem se mostrado mais sensível a questões ligadas à política social e às restrições do ponto de vista social para a implementação de um determinado programa de austeridade. Houve uma certa evolução na visão do FMI”, comenta o economista Gesner Oliveira, autor do livro “Brasil – FMI: Frustrações e Perspectivas”.
Por isso, Oliveira considera desnecessária a inclusão de uma cláusula social num novo acordo. “Seria um grau de interferência na política social que não sei se é vantajoso. Não sei se é uma conquista para o governo”, defende.
A economista e deputada federal Yeda Crusius (PSDB SP)acredita que o FMI acompanha as discussões que marcam a agenda internacional a cada período. “A década de 90 terminou. Estamos na primeira década no terceiro milênio e existe um movimento mundial para as mudanças desses parâmetros, que começa na reação à globalização dada por um indicador concreto de aumento da desigualdade mundial”,comenta, referindo-se ao receituário que marcou a década de 1990.
O ex-ministro Delfim Netto não atribui ao FMI culpas ou avanços. “A função do FMI é garantir condições objetivas para produzir estabilidade externa. O Fundo até pode concordar eventualmente com cálculo diferente do superávit primário, desde que você se comprometa com a estabilidade externa”, comenta.
Bodas de diamante: história conturbada
A relação entre Brasil e FMI começou ainda na fundação do organismo, em julho de 1944 (em 2004 completa 60 anos), durante a Conferência Financeira Monetária das Nações Unidas, em Bretton Woods, New Hampshire, nos EUA, que também criou o Banco Mundial (Bird).
Em virtude da 2.ª Guerra Mundial, os países fragilizados precisavam passar por uma reconstrução. O Banco Mundial seria responsável pelo financiamento de projetos de infra-estrutura e desenvolvimento e o FMI, pelos ajustes nas contas externas, para manter o equilíbrio econômico global. O Brasil foi um dos 45 fundadores do “clube” – como define Delfim Netto – com participação de 1,41%,ocupando a 18.ª colocação entre os 184 membros atuais do Fundo.
De Juscelino a Lula
Desde a primeira vez que o Brasil negociou empréstimos com o Fundo, entre os anos de 1958 e 1959, as reformas estruturais condicionadas pelo organismo já eram questionadas. O empréstimo envolvia US$ 37 milhões por parte do FMI e mais US$ 100 milhões do Eximbank e US$ 58 milhões de bancos privados americanos.
O governo de Juscelino Kubitscheck, que empreendia o seu Plano de Metas, com o slogan “50 anos em 5”, estava endividado e precisava de dinheiro para concluir a obra. Mas havia, por parte do organismo, a condição de que o governo controlasse a inflação galopante da época e promovesse uma política de estabilização, com reforma cambial.
Adepto da teoria da “inflação desenvolvimentista”, Kubitscheck não aceitava a política ortodoxa do FMI. Assessorado de um lado pelo economista Celso Furtado, que sugeria o rompimento com o Fundo, e, do outro, pelo seu ministro da Fazenda, Lucas Lopes, e o presidente do então BNDES, Roberto Campos, que negociavam o empréstimo com o Fundo, Juscelino optou pela ala desenvolvimentista.
“Uma única conclusão se impunha, portanto: a de que seu comportamento (do FMI) obedecia a um esquema secreto, tendo por objetivo conservar as nações subdesenvolvidas da América Latina sempre subdesenvolvidas”, escreveu JK em suas memórias. O presidente rompeu com o Fundo em junho de 1959, no mesmo instante em que Lopes e Campos fechavam o acordo, que acabou não acontecendo.
No governo-relâmpago de Jânio Quadros, foi a vez de o ministro da Fazenda Clemente Mariani reconquistar a confiança internacional e o apoio do FMI, num acordo envolvendo US$ 2 bilhões. Para conseguir o empréstimo, Mariani prometeu realizar as reformas que o Fundo exigia ainda nos tempos de JK, e promoveu uma brusca desvalorização cambial, com um dólar valendo duzentos cruzeiros.
Mas o empréstimo, mais uma vez, não foi totalmente executado, por causa da renúncia de Jânio. No governo de Castello Branco, em 1965, o FMI avalizou um empréstimo de US$ 125 milhões junto a instituições financeiras, embora não tenha desembolsado nada. Apesar de apoiar o Brasil, não houve, nos anos da ditadura militar, acordos assinados com o Fundo. Nos anos 1970, o país passou pelo “milagre brasileiro”, de prosperidade.
As idas e vindas a Washington retornaram na década de 1980 – a década perdida, da hiperinflação, tendo na época o deputado federal Delfim Netto como o principal negociador. O Brasil sofria a influência da segunda crise do petróleo, no final da década de 1970.
“Na década de 80, o Brasil estava numa crise da dívida externa muito grave, sem condições de servir a sua dívida e arcar com seus compromissos. Foi uma situação muito grave para o país, com um custo elevado em termos de reputação no mercado internacional e o custo do dinheiro ficou mais elevado”, lembra Gesner de Oliveira.
Delfim, a quem é atribuída a frase “dívida pública não se paga; administra-se”, é autor de inúmeras cartas de intenção não cumpridas. “Os acordos são sempre da mesma natureza e há sempre disposição de cumprir. Mas, se durante o processo não há condições de cumprir, negocia-se novamente”, diz o economista.
A receita do Fundo era sempre a manutenção de superávits fiscais elevados e o controle da inflação. Em 1982, o empréstimo envolveu US$ 4 bilhões, que não foram totalmente liberados. No ano seguinte, em mais um acordo cumprido pela metade, o FMI emprestara US$ 3,7 bilhões de US$ 5,7 bilhões acordados.
A mesma história se repete em 1984, quando são negociados US$ 5,5 bilhões. Em 1987, aconselhado pelo ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, o presidente José Sarney declarou a moratória da dívida externa.
Embora considere que o custo da moratória tenha sido elevado, Gesner Oliveira pondera que não havia outra alternativa. “O país vivia numa situação muito difícil. Havia poucas alternativas. É preciso entender as dificuldades daquela época“, diz ele.
Já Delfim atribui ao calote de 87 parte do alto custo da dívida atual. “Foi um equívoco. O Brasil estava pagando e simplesmente disse que não ia pagar mais. O resultado é que aí está um bom pedaço do spread brasileiro (custo cobrado pelos credores ao emprestar o dinheiro)”, comenta.
Com muito custo, as relações com o FMI são retomadas em 1988, por meio do ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega, que realiza um acordo de US$ 1,4 bilhão. Mas o país consegue sacar apenas US$ 477 milhões.
Anos 1990: cresce o diálogo
Os anos 1990 nascem com a insígnia do Consenso de Washington, em que a abertura comercial e as privatizações são consideradas premissas certeiras para atenuar as mazelas econômicas.
Na avaliação do Secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, hoje principal negociador do Ministério da Fazenda com o Fundo, neste momento, inicia-se uma fase de diálogo entre o organismo e o Brasil, sem as imposições das décadas anteriores.
“Na década de 80, o Fundo teve um papel importante para dar um pouco de ordem no país. Ajudou a gente a construir certas bases de finanças. Na década de 70, toda a contabilidade pública estava um caos. As estatais cresceram sem controle nenhum, cada uma fazia o que queria sem prestar contas. Você não podia calcular uma estatística financeira real”, ressalta.
Um acordo de US$ 2 bilhões feito em 1992 pelo ministro Marcílio Marques Moreira, tendo como negociador Pedro Malan – que atuava em Washington como consultor do BID -, não é consumado por causa do impeachment do presidente Fernando Collor de Mello.
O governo só conseguiu sacar US$ 170 milhões. A partir de 1994, o Brasil dá início ao ciclo de cumprimento dos acordos com o organismo. O então negociador da dívida externa brasileira Pedro Malan, orientado pelo ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso, consegue renegociar a dívida brasileira, aderindo ao Plano Brady, que previa a redução da dívida, mediante redução do principal da dívida ou dos juros.
Em novembro de 1998, contaminado pelas crises da Ásia e da Rússia, o Brasil passou por mais uma crise nas suas contas externas. O país recorreu novamente ao FMI e conseguiu negociar um pacote de US$ 41,5 bilhões, que envolvia também o Bird, o BID e o Banco de Compensações Internacionais (BIS).
Nesse momento, é assinado o Memorando de Política Econômica, em que o ministro Pedro Malan e o presidente do Banco Central, Gustavo Franco, assumem as metas fiscais e monetárias e os critérios de desempenho necessários para a liberação dos recursos.
“Em 98 o Fundo voltou à cena e entrou mais como um parceiro. Não vinha impor políticas. Ao contrário, ele tomou certos riscos que foram bons para o Brasil e para ele também”, enfatiza Levy.
Em 2001, afetado desta vez pela crise do vizinho Argentina, o Brasil fecha mais um acordo, no valor de US$ 15 bilhões. Em 2002, país passou por mais uma crise de confiança. O processo eleitoral e a conjuntura internacional provocaram a elevação do risco país para 2.400 pontos em setembro do ano passado, e a inflação voltava a ameaçar.
Após ouvir dos candidatos à Presidência, o compromisso de cumprimento dos contratos, o FMI assinou com o governo brasileiro o acordo de US$ 30 bilhões que se encerra agora.
Nova era?
O PT, que ganhou as eleições, chegou a publicar a “Carta ao povo brasileiro”, em que faz um compromisso formal. "A grande vantagem competitiva desse governo foi que ele tinha compromissos claros de que ia fazer certas mudanças. O governo tinha uma agenda clara, madura e que tinha todo sentido do mundo. Quando as pessoas olham aquilo dizem ‘vale a pena tomar esse risco’ ", diz o secretário do Tesouro.
Caso seja assinado um novo acordo, será a primeira vez que o Brasil não estará “com a corda no pescoço”, como disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O próprio porta-voz do FMI, Thomas Dawson, disse, na semana passada, considerar o cumprimento do programa por parte do Brasil “excelente”,ultrapassando as expectativas.
Para Levy, mesmo que o acordo não seja assinado, o Brasil está inaugurando uma era de diálogo permanente com o Fundo, em que a vontade do governo tem prioridade. “O Fundo não precisa ficar inventando coisas para a gente. A gente sabe o que está fazendo e está mostrando os resultados. É o que está dando bons resultados na nossa relação com o Fundo”, conclui.