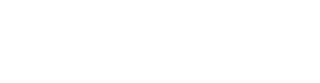Spensy Pimentel, da Agência Brasil
Brasília – O embaixador brasileiro Rubens Ricúpero, 66, conhece de perto o duro processo de negociações para a liberalização econômica. Ex-ministro da Fazenda e do Meio Ambiente, foi representante do governo brasileiro em Washington por vários anos.
Ocupa, desde 1995, o cargo de secretário-geral da Unctad, a Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento. A entidade reúne 133 membros, principalmente países pobres, as maiores vítimas daquilo que ele chama de "globalização anti-humanitária".
Nesta entrevista, concedida por telefone, de Genebra, onde reside atualmente, Ricúpero fez uma avaliação das recentes atuações brasileiras em negociações na Organização Mundial do Comércio (OMC) e na constituição da Aliança para o Livre Comércio nas Américas (Alca).
Nas questões que envolvem a formação do bloco comercial, o embaixador prevê dificuldades, em razão da fraqueza da maioria dos parceiros brasileiros frente aos Estados Unidos. Elogia a atuação dos representantes do Brasil e rejeita qualquer acusação de intransigência.
Mas, adverte, o país, "gigante pela própria natureza", deve acostumar-se com essa condição: "um país que é muito grande às vezes tem que aceitar que a sua situação acabe ficando um pouco isolada".
"Se o Brasil teve algum problema, foi porque lutou por aquilo que é o objetivo da OMC. Ela existe para liberalizar o comércio mundial", disse ainda. Ricúpero acredita também que os subsídios à agricultura nos países ricos estão fadados ao desaparecimento nos próximos anos.
O diplomata, parceiro do economista Celso Furtado, que fez o prefácio de seu último livro editado no Brasil, "Esperança e Ação", surpreendeu ao final da conversa de 40 minutos. Não se contentou em opinar sobre as negociações e apontou aquele que considera o verdadeiro nó a ser rompido no comércio exterior: o investimento na diversificação e modernização de nosso setor produtivo.
"É só por meio da melhoria da oferta que nós resolveremos essa dependência excessiva de produtos complicados (como os do setor agrícola), que as negociações não vão resolver tão cedo", sentencia. Leia a seguir os principais trechos da entrevista:
Tivemos, nos últimos dois meses, a reunião da OMC em Cancún, no México, a ida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva às Nações Unidas e, mais recentemente, a retomada das discussões da Alca. Nessas negociações comerciais, há acusações de intransigência por parte de uns, e outros setores que admiram a posição brasileira. Qual é o seu ponto de vista sobre o tema?
Essas negociações sempre foram difíceis, porque são desequilibradas. O que complica também o panorama é que os outros países latino-americanos têm uma posição de participar desse acordo com os EUA mesmo que isso lhes obrigue a renunciar à possibilidade de terem políticas próprias.
Como esses países são, em geral, pequenos e já praticamente perderam as indústrias que tiveram no passado, para eles não faz muita diferença.
Então, a perspectiva de ter uma garantia de acesso ao mercado americano para os poucos produtos que eles exportam em geral faz com que eles tenham uma tolerância em aceitar o desequilíbrio que o Brasil, por causa do seu próprio tamanho, não aceita.
Eu já inclusive falei sobre isso num pequeno livro que escrevi sobre a Alca. Eu dizia que aquela expressão do hino, "gigante pela própria natureza", tem também o seu outro lado: um país que é muito grande às vezes tem que aceitar que a sua situação acabe ficando um pouco isolada, como está acontecendo hoje em dia nessas negociações.
A posição brasileira, eu considero fundamentalmente correta, ela não me parece intransigente. O que o Brasil deseja é que a Alca liberalize as áreas em que nós somos competitivos, como, por exemplo, suco de laranja, aço, açúcar e álcool combustível. Os americanos resistem.
E nós, creio eu, com razão, não vemos por que aceitar fazer grandes concessões em temas como investimento ou proteção de patentes, que são interesses exclusivos dos americanos, quando a perspectiva para os produtos brasileiros é remota.
A solução seria os dois lados terem uma atitude mais realista e baixar um pouco o nível de ambição. Não é fácil, porque os outros latino-americanos são muito frágeis e tendem a aceitar sem discussão as propostas americanas.
O senhor acredita que um fortalecimento para essa negociação da Alca passaria por um aprofundamento de algo como o Mercosul?
O ideal seria isso, o Brasil até tem tentado fazer esse reforço do Mercosul. Eu creio que essa idéia é mais viável em relação à Argentina, um país grande e que, como o Brasil, tem um interesse forte na liberalização da agricultura e mais capacidade de resistir.
Já não acredito muito que isso possa se fazer no caso do Uruguai, um país muito frágil, uma economia pequena e muito dependente, que recentemente foi salva de uma crise por empréstimos americanos no setor bancário. Acredito que o entendimento com a Argentina é mais viável, mas, com o Mercosul como um todo, eu não sei se há condições de ir muito longe numa negociação como essa.
Estamos, justamente, vivendo um momento tenso nessas negociações, com divergências vindo a público, inclusive supostas críticas ao Itamaraty. O que deve nortear agora um movimento para "reunir a tropa" e continuar avançando?
Ouvi dizer que o ministro Roberto Rodrigues (da Agricultura) depois esclareceu que não havia propriamente feito as declarações atribuídas a ele, nesse sentido. Eu não sei exatamente o que de fato ocorreu, mas compreendo que, em alguns setores, possa haver uma certa frustração.
Agora, me surpreenderia que fosse do setor agrícola, uma vez que é justamente aí que os americanos são menos dispostos a fazer concessões. A não ser que haja alguma coisa que não tenha ainda sido divulgada de público.
A posição pública americana em agricultura tem sido muito rígida, porque eles alegam que os subsídios que eles dão aos agricultores para a produção doméstica não serão discutidos na Alca, que esse é um assunto que só se poderia resolver em Genebra, na OMC.
Eles alegam, com certa razão, que esse tema só pode ser resolvido com um acordo entre os amigos: os europeus, o Japão, todos os países que dão subvenções.
Quanto aos produtos de interesse brasileiro de acesso ao mercado americano, a posição americana é muito protecionista, seja na Alca, seja no âmbito da OMC. Tanto quanto eu sei, os americanos não se dispõem a fazer concessões nessas áreas.
Esse grande nó na OMC que é a questão agrícola, o senhor vislumbra alguma perspectiva de desatá-lo?
Quanto a isso, eu não sou totalmente pessimista. A Europa, que, durante muito tempo, era o continente mais protecionista em agricultura, com a chamada política agrícola comum da União Européia, agora aprovou o início de uma reforma para gradualmente desvincular os subsídios da quantidade produzida.
Eles querem que uma parcela crescente dos pagamentos seja vinculada, por exemplo, à proteção do meio ambiente, à produção de alimentos de melhor qualidade, à melhoria da situação dos animais criados. Isso vai levar a uma redução gradual dos subsídios.
O que se discute, creio eu, é a velocidade com que isso vai ser feito. Mas, mesmo em Cancún, no final da negociação, havia sinais de movimentos como esse, e a reunião foi suspensa não por impasse na agricultura, mas por causa da recusa de muitos países, sobretudo africanos, em aceitarem negociar um acordo muito ambicioso em matéria de regras de investimento, de concorrência, de compras de governos.
Os africanos entenderam que, no tema que interessa a eles, o subsídio dos EUA ao algodão, que está acabando com a economia de vários países desse continente, não se quis fazer nenhuma concessão. Esse foi o tema que emperrou as negociações ao final da OMC. Não foi por nossa causa. Portanto, eu acho que a agricultura, no âmbito internacional, tem uma perspectiva razoável.
Então os subsídios estão fadados a desaparecer…
Gradualmente. Pode apenas demorar mais ou menos tempo.
Por aquilo que o senhor descreveu da reunião da OMC, podemos inferir até a existência de certa má-fé entre os que acusam o Brasil de ter causado o desfecho negativo das negociações…
É total, absolutamente errado supor isso. Qualquer pessoa que esteve em Cancún sabe disso. Se o Brasil teve algum problema, foi porque ele lutou por aquilo que é o objetivo da OMC. Ela existe para liberalizar o comércio mundial, e o que falta é o comércio da agricultura, em que países como a Argentina e o Brasil são competitivos.
Do ponto de vista moral e da lógica econômica, o Brasil tem 100% de razão, não há a menor dúvida. Eles não cedem porque são prisioneiros dos interesses dos lobbies que têm poder político, mas isso não é algo que se possa invocar como argumento válido.
Esses insucessos da OMC e de intervenções da ONU, como a que houve no Iraque, são apontados por alguns analistas como o indício de uma crise dos organismos multilaterais e da necessidade de repensá-los para o mundo atual. O senhor acredita que, de fato, há uma crise? Qual seria o papel desses organismos hoje? O abandono deles pode causar prejuízo para os países?
A invasão do Iraque tem muito pouco ou nada em comum com as negociações na OMC. São problemas de natureza distinta, mesmo porque as negociações comerciais são sempre difíceis, não é a primeira vez que a OMC chega a um impasse e já houve episódios piores.
Desde 1988 até agora, houve quatro reuniões ministeriais, duas do GATT e duas da OMC que terminaram em fracasso. Apenas, há pessoas que não conhecem bem a história e têm a tendência de se concentrar sempre no último episódio.
Agora, dito isso, é verdade que há uma certa crise do multilateralismo, porque alguns países muito poderosos tendem cada vez mais a tentar impor as suas posições e utilizar o seu poder para tentar seguir uma política própria.
E, contra isso, as organizações internacionais não têm muito poder. Por exemplo, a ONU nunca teve um exército, um Estado Maior próprio.
A ONU descende de uma entidade que existiu antes, na 1ª Guerra Mundial, a Liga das Nações. Já nessa época, houve sugestão para que os países criassem uma força militar que ficaria à disposição da organização internacional.
As grandes potências nunca aceitaram isso. Quando há um episódio bilateral como o caso do Iraque, é sempre porque uma dessas nações poderosas resolveu tomar a justiça em suas próprias mãos.
Acontece que, se nós chegarmos a um mundo em que essas organizações cada vez se tornem mais fracas, o que nós vamos ter é a perda da segurança que só pode vir das regras, das normas claras.
Não há dúvida de que quem fica mais ameaçado com isso são os mais fracos. Por mais imperfeita que seja, essa organização internacional, inclusive no comércio, é a única garantia para os países menores.
O ideal é que essas organizações sejam reforçadas, porque, se nós continuarmos nesse caminho atual do unilateralismo, o que nós vamos ter é uma situação cada vez mais perigosa, um retrocesso histórico.
As duas guerras mundiais começaram por causa de políticas de alguns países poderosos.
A sociedade civil organizada é apontada pelos analistas como uma nova peça nesse xadrez. Mobilizações estão acontecendo ao redor do mundo, principalmente protestos, mas também, com os fóruns sociais mundiais, por exemplo, discussões e encaminhamento de propostas. Como o sr. vê o papel dos movimentos socais nesse debate?
Trata-se de um dos desenvolvimentos mais significativos e importantes da segunda metade do século 20. Os dois grandes temas que cresceram naquela época, os direitos humanos e a proteção do meio ambiente, foram, numa grande medida, produto da mobilização das organizações não governamentais, da sociedade civil organizada.
De maneira geral, essa mobilização é um fator muito positivo, porque ela permite um contrapeso à posição dos estados, a essas ações políticas unilaterais e também aos próprios interesses econômicos gigantescos que às vezes se escondem atrás dos governos.
Eu apenas faria uma observação de cautela: essas organizações têm um poder grande de mobilização, de protesto. Mas, se elas não encontrarem uma maneira de canalizar sua energia e de pesar no sistema político dentro de cada país em que atuam, nunca terão a possibilidade de realmente ter um impacto definitivo sobre o poder e mudar os atores que tomam decisões, os governos.
As decisões dessa globalização anti-humanista que nós temos visto, com o favorecimento do capital contra o fator trabalho e o sacrifício de conquistas sociais, são tomadas por governos.
Quase todos são democracias ocidentais, eleitos com partidos que, às vezes, no passado, eram social-democratas, mas que acabaram mudando de posição. O que vai decidir, em última análise, se essas políticas vão continuar ou não, serão, no futuro, as maiorias nos parlamentos e nos partidos.
Grupos como G-3 ou G-22 apontam para uma nova organização dos países em desenvolvimento? É possível romper a relação de centro/periferia em termos político-econômicos e garantir, também, uma sobrevivência econômica alternativa?
Esses grupos são úteis, mas não se deve exagerar. Eu não acredito que nenhum deles, por mais influente que seja, possa ser visto como um contraponto ao poder imenso que tem um país como os Estados Unidos.
Mas, como muitas das decisões internacionais têm de ser tomadas em organismos com um processo decisório do tipo parlamentar, é importante que haja essas alianças. Aí esses grupos podem ter uma influência grande.
Agora, cada um deles é diferente. Por exemplo, o Grupo dos 20 foi formado em torno de uma proposta especifica em agricultura num determinado momento. Eu não acredito que esse grupo possa ter uma permanência em outros temas, porque os próprios integrantes já disseram muitas vezes que só têm uma posição comum sobre agricultura.
Cada um desses grupos se forma num determinado tema. O que existe no mundo contemporâneo é a possibilidade do que alguns chamam de uma "geometria variável". Podem-se criar os grupos das mais diferentes coalizões em torno dos mais diversos temas. Não são alianças permanentes como eram as da época da Guerra Fria.
São grupos úteis, e a diplomacia brasileira tem revelado senso de oportunidade e capacidade de iniciativa para articulá-los. É uma maneira de ocupar espaços. Várias vozes formam um coro mais forte do que uma só.
O presidente Lula disse, recentemente, que o Brasil está "trucando" nessas negociações. Será que nós temos "mão" para ganhar essa rodada?
Eu não sei bem o que ele queria dizer com isso. Se a idéia é dizer que há mais aparência do que realidade, eu não creio que seja o caso. O Brasil tem competitividade para enfrentar qualquer tipo de desafio na área agrícola.
Nesse sentido, teríamos condições de pagar para ver, temos cartas na mão. Talvez em outras áreas não, mas, na agricultura, é indubitável, o Brasil tem trunfos importantes.
Talvez ele tenha se referido ao fato de o truco ser um jogo em que, muitas vezes, ganha quem grita mais alto.
Aí eu acho que está correto, no sentido de que você tem que apresentar, de fato, uma proposta de nível ambicioso. Eu acho que é correto dizer isso.
Há algo mais que o sr. queira acrescentar?
Eu me limitei a falar das negociações porque as perguntas levaram a isso e porque noto que o interesse, aí no Brasil, está muito concentrado nisso.
Mas, eu devo dizer, e gostaria que ficasse registrado: acho que esse é um equívoco. As negociações comerciais têm valor, mas um valor limitado. O máximo que podem fazer, quando dão certo, é criar uma oportunidade de exportação.
Somos um país com uma oferta pobre, em quantidade e qualidade. Quando nossa economia não vai bem, o consumo interno cai, então muitos produtos como o aço sobram e são exportados. Mas, no momento em que se reativa o crescimento econômico, esses produtos acabam sendo dirigidos para o mercado interno.
A quantidade não é boa, e a qualidade é ainda pior. Nós, infelizmente, somos competitivos em setores complicados, como nesses produtos agrícolas, que, além de protegidos por lobbies poderosos, têm uma demanda que não cresce muito no mundo. Há muitos produtores que competem conosco, e os preços freqüentemente caem: o caso do café é típico.
A solução para nós estaria em ter uma capacidade de exportar produtos mais dinâmicos. Quais são esses produtos? São eletroeletrônicos, produtos de telecomunicações, química fina, petroquímica, equipamentos médico-hospitalares, os produtos de tecnologia que os asiáticos exportam.
Mas nós não temos capacidade de oferta desses itens. O que o Brasil tem que fazer é agir para melhorar o sistema produtivo, e isso só se consegue com investimento. Tanto de fora como, sobretudo, nacional – investimento em tecnologia.
É só por meio da melhoria da oferta que nós resolveremos essa dependência excessiva de produtos complicados, que as negociações não vão resolver tão cedo.
Você vê: os países asiáticos não têm essa dificuldade. Eles são muito competitivos em agricultura, mas também, e sobretudo, na indústria. Para eles, não é problema encontrar uma resistência num setor: eles vão para outros. E nós, no Brasil, não percebemos isso e continuamos muito concentrados em poucas coisas.
O sr. pode indicar as linhas principais nessa atenção ao setor produtivo?
Por o que sei, o governo brasileiro está em vias de definir uma política industrial, se é que já não definiu. Ouço dizer que o atual governo vai definir justamente esses setores que eu citei, o que eu acho correto.
O governo deve, com estímulos tecnológicos, políticas inteligentes, não as do passado, que eram políticas apenas de criação de cartórios industriais, apoiar o desenvolvimento de uma capacidade produtiva.
Um grupo que envolve o ministro Gushiken (Luiz Gushiken, da Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica) e outros está trabalhando nisso e, ao que parece, estão muito adiantados.
Eu não tenho informação atualizada, mas aplaudo isso com muito entusiasmo. No fundo, é isso que vai nos dar, no futuro, uma tranqüilidade nas negociações.